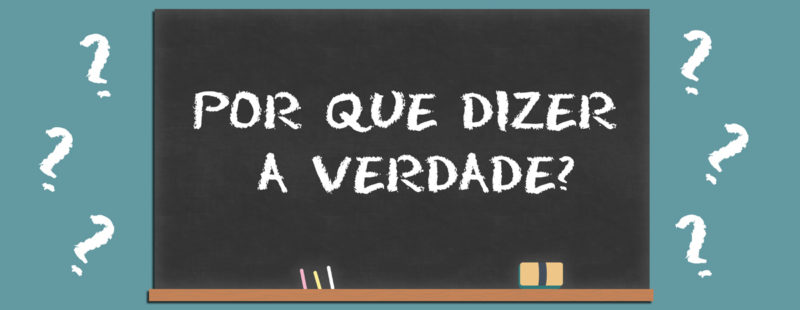André Klaudat (*)
Imaginemos que uma pessoa pública extremamente proeminente, um político com muito poder, diz numa entrevista que ele é livre para dizer o que quer e que se alguém acreditar nele o problema é de quem está ouvindo. O que tem de errado com essa fala? Poderíamos pensar, num excesso de caridade interpretativa, que o propósito desse falante fosse fazer um chamamento à responsabilidade: “cuidem-se com o que acreditam do que as pessoas poderosas dizem, a responsabilidade é de vocês”. Há outra possibilidade de interpretação?
E o que há de errado com a opinião de alguém que afirma que tem o direito de expressar seu preconceito racial? Essa opinião que quer se suavizar assim: “só não pode violência física”.
O que está presente nas formas de pensar retratadas é a reivindicação de uma liberdade de querer, e consequentemente de buscar sua realização, que é totalmente discricionária: “é a minha vontade, sou livre para querer o que eu bem entender, é meu direito!” Pode-se ter – isto está certo? – uma espécie de “gosto” racista contra negros, como se tem um gosto por sorvete de baunilha ou por leite morno?
Uma maneira de se pensar sobre esse problema é ressaltar a enorme importância que têm as consequências desses tipos de ações e posturas para todos nós. Se falas de políticos poderosos devem ser sistematicamente desacreditadas, então a confiabilidade da política será erodida. E como consequência nos parecerá urgente e inteligente nos perguntarmos: “por que precisamos de políticos e da política?”
Quanto às consequências em relação ao primeiro tipo de caso, podemos pensar mais especificamente o seguinte, quanto à importância da confiança mútua. Quando alguém, de maneira pedestre, pede as horas e recebe uma resposta, ele normalmente se fia na informação. Trata-se de uma cordialidade que não custa muito oferecer. Então, confiança quanto a isso se mantém. Há, no entanto, casos mais sérios e momentosos nos quais em contrapartida a um benefício, auxílio, empréstimo, etc., exigimos uma promessa de “devolução”, que pode ser mentirosa. Quando o ponto central são as consequências e quando chamamos a atenção para a importância da confiança em muitíssimas das nossas interações, o que pensamos que há de errado com, por exemplo, uma promessa mentirosa é que, para além do prejuízo material da parte ofendida, há o “dano” à eficácia racional das partes envolvidas, isso em geral: de todas as pessoas que prometem e aceitam promessas. A longo e até a médio prazo, assim como acontece com todas as nossas convenções que regem combinações, atos isolados desse tipo minam o arcabouço de linguagem e confiança que a instituição humana da promessa envolve, pois em geral prometemos de boa fé e aceitamos as promessas, ou seja, confiamos nas prometas feitas. Se promessas mentirosas tivessem se espalhado sem controle, como numa pandemia em relação a qual não tomamos cuidados, para que dizer “eu prometo” se ninguém vai acreditar no que digo? E aí estaria, à nossa frente, o que há de errado com uma promessa mentirosa, segundo esse modo de pensar: (1) o que quer aquele que promete desse jeito, que é levar uma vantagem indevida na situação (tirar algo do outro), precisando para tal que sua vítima acredite na sua promessa falsa; e (2) o que essa promessa faz para além disso: ela está minando, erodindo, em geral, a realização de promessas entre as pessoas e comprometendo tudo de bom que todos nós podemos auferir dessa instituição, todas as orquestrações de comportamentos mediante as quais as pessoas podem ser úteis umas às outras alternadamente e com relação a objetos e valores não presentes no momento para uma “troca” imediata: “me ajuda agora que prometo te ajudar depois”. Mas cabe, neste momento, fazer a seguinte pergunta: será que ser veraz nas promessas é certo só por causa das consequências ou efeitos das promessas mentirosas?
Consideremos uma ação privada com consequências nefastas primariamente particulares. Tomemos como exemplo o lamentavelmente muito frequente golpe do falso sequestro. A vítima caiu no golpe e pagou o “resgate”. O problema é o dinheiro perdido? Essa consequência? Suponhamos que houve maneira e tempo hábil para que os pagamentos tenham sido sustados e que esse dano, portanto, não se materializou. Então, não houve problema? Suponhamos, ainda, que houve sofrimento com a experiência, a vergonha posterior, o trauma e suas sequelas, o tempo perdido durante e depois, etc. É isso que torna o golpe um crime hediondo? Mas e se nada dessa espécie tenha se verificado? Tratar-se-ia somente de uma aventura desagradável, exigindo algum cuidado posterior? Há a mentira “inicial”, que “emplacou”, e daí tudo se seguiu como os golpistas desejavam, sendo que a vítima acreditou na verdade do crime de sequestro e nas ameaças quase de ofício – tudo falado! Mas, na nossa suposição, não houve consequências de monta. Então, não houve nada de errado?
Há um tipo de caso muito discutido em relação ao porquê de termos de dizer a verdade uns para os outros: o do assassino armado à porta, exigindo saber onde está sua pretendida vítima. Pensamos todos que não só não há nada de errado se o respondente mentir para o assassino sobre o paradeiro da vítima, mas que ele deve mentir sobre a informação exigida dele nessas circunstâncias. Mas por que exatamente?
Pensa-se muitas vezes que essa é justamente uma situação em que devemos fazer uma exceção à regra de não mentir em geral, e até que “a exceção prova a regra” nesse caso. Mas trata-se mesmo de uma mentira? Quando aqui pensamos que se trata sim de uma mentira, mas plenamente justificada, estamos pensando simplesmente que se tratou de não dizer a verdade intencionalmente. Mas o que exatamente está sendo feito aqui pelo respondente no que ele diz ao assassino à porta?
Há uma outra maneira de pensar sobre o que está acontecendo de errado aqui que não se pauta primariamente pelas consequências, possíveis ou muito prováveis, simplesmente como tais. Querer evitar um assassinato num caso desses, no entanto, é o que há a ser feito. Mas será que o que temos que fazer é mesmo mentir para tentar alcançar esse propósito? Certamente é o que parece, mas consideremos o seguinte.
A razão fundamental para se dizer a verdade (e não mentir, não prometer mentirosamente, mas também não enganar dizendo meias-verdades ou até verdades completas, mas de modo a controlar o fluxo da informação para fazer alguém pensar e agir como se quer) é que dizer a verdade é o único modo, de fato, de respeitarmos a integridade racional de outrem e até de nós mesmos. Nossa agência racional – nós como agentes que somos racionais – depende da interação entre humanos, que se dá através da linguagem. E é nela – através dela – que hipotecamos nossas ações para assim envolver os outros na busca pela satisfação dos nossos desejos e necessidades, de muitas maneiras e com propósitos muito diversos. Então, é certo que, por exemplo, a confiança está já presente nas ações de fazer promessas e aceitá-las. Ela faz parte do que é prometer: se promete – é a presunção costumeira e adequada – de maneira veraz. Isso infelizmente não torna, no entanto, uma promessa mentirosa particular impossível. Mas o problema – que é moral – não é que a confiança entre os homens estará sendo, mesmo que talvez somente minimamente, erodida. O problema não é essa consequência, provável, certa ou não. Pois, se é pelo uso da linguagem com a presunção de que seu emprego de modo verdadeiro pelas partes envolvidas na interação é o que dá uma razão comum – e note-se bem – a ambas as partes para o uso de tal expediente, então a exploração por uma delas justamente desse modo de “chegar” à agência racional da outra é o que cria o problema. Então, numa promessa mentirosa deliberada entre particulares o que temos é tipicamente a utilização enganadora da confiança induzida pela utilização comum da linguagem para que a vítima aja de uma maneira para a qual ela não tem razões, ou não tem as razões certas. Sua agência racional, sua vontade em ações, foi manipulada causalmente por palavras: na linguagem aparecem razões para fazer alguma coisa (após a aceitação da promessa) que não são verdadeiras razões para ela, antes são causas para que a vítima “opere” do modo que o promitente mentiroso quer para atingir o seu objetivo com essa interação fraudulenta. Em geral, então, a imoralidade da promessa mentirosa reside na agressão à integridade da agência racional do promissário dela. Não se permite, pela manipulação deliberada da presunção da verdade que informa comumente as interações linguísticas humanas (a plenitude e a contundência das nossas agências racionais particulares dependem de que possamos nos dar razões que sejam válidas para ambas as partes envolvidas), que a vítima seja plenamente racional com relação à interação, ou seja, faça justiça ao fato de que tem em si, nas suas capacidades, acesso ao padrão de justificação completa para as suas ações, aqui em particular com relação ao que fazer tendo lhe sido prometido algo. Em resumo, tal promessa, a mentirosa, é um grave ataque à agência racional plena e situada de alguém que é capaz de ser justificadamente racional numa interação dessa espécie, o que a identificação da imoralidade desse tipo de ação normalmente nos apresenta.
Mas o assassino armado à porta tem direito à verdade? Ele de fato é um agressor que subverte a presunção comum da verdade, que é o meio primordial de nós humanos efetivamente preservarmos a integridade das nossas agências racionais na sua plenitude. Então, talvez o respondente não esteja mentindo, ou mentindo justificadamente, uma exceção necessária à regra, ao dizer de modo não verdadeiro ao seu agressor que a vítima não está na sua casa. Não foi nem um “lance” no jogo normal e usual de repassar informações solicitadas. O que o respondente diz pode ser tomado como tendo o intento de evitar que o agressor invada uma região, a ser protegida e preservada, da manifestação linguística veraz, que se encontra em cada pessoa, espaço livre cuja integridade é condição de possibilidade para a bem-sucedida manutenção da racionalidade prática eficaz de seres racionais como nós.
É desse modo que podemos entender o que há de errado com o “gosto” racista contra negros. Mas, nesse caso, trata-se do rechaço radical quanto ao reconhecimento na pessoa negra do status de agente racional pleno, participante por inteiro da miríade de todas as interações humanas: através do foco discricionário, gratuito, voltado primariamente às características dos corpos negros, sua cor de pele, tipo de cabelo, seus narizes e lábios. Corpos negros são o veículo da expressão material da agência racional dessas pessoas, e é essa de fato que é atacada pelo preconceito racista contra negros. Não é uma questão de “gosto”, não é uma questão de “liberdade de expressão”, de “direito” à “livre expressão” de um pensamento como outro qualquer, como pretende o libertarianismo zap-zap do exercício sem limites da liberdade individual. Trata-se de uma ação linguística que, junto com outras ações, visa anular a pessoa negra na sua agência racional, mirando nas suas características corporais. Não há “gosto” em questão aqui. Isso tem outro nome: imoralidade.
O que está fazendo o político poderoso que diz que não se importa com dizer a verdade, como se fosse uma questão de mercado outros “comprarem” suas falas? Ele está efetivamente, performativamente, declinando da presunção da verdade na comunicação humana. O problema é composto pelo poder da pessoa. Pela posição funcional que ocupa ela não está simplesmente alertando sobre os perigos da credulidade excessiva. Está, pelo poder institucional real que tem, atacando todos a quem se dirige, declarando que não se importa com suas integridades de agentes racionais que precisam interagir no espaço criado pela complexa institucionalidade dos nossos arranjos sociais. Se não é “engenharia social” de golpistas do falso sequestro, como os bancos costumam se referir ao seu modo de operação quanto ao comportamento da vítima, talvez seja “engenharia sociopolítica”, da qual se vangloriam políticos da extrema direita quando avaliam que nem dando um tiro em alguém na Broadway, em Nova Iorque, perderiam em popularidade.
Mas qual é a relevância de uma reflexão como a presente, se muitos não caem em golpes e se pessoas com uma formação política razoável não caem na lábia de políticos populistas autoritários, se não nas suas flagrantes mentiras? É que há ondas, verdadeiros tsunamis, de ideias esgrimidas sociopoliticamente, como armas numa guerra, para certos objetivos – uma genuína pandemia ideológica –, que apanha os cidadãos de uma sociedade sem um sistema imune para o tratamento crítico delas. Trata-se de uma impostura quanto à liberdade individual e política. Não vou dizer: “pena que não tem uma vacina!”. Pois ideias, de fato, são importantes, como o que são: ideias e não vírus. Mas há também como, investigativamente, chegarmos à realidade que está sendo criada por esse esforço de “engenharia de ideias”: olha aonde foi parar o dinheiro e vê o que ficou para trás no seu caminho até lá. É com essa reflexão que posso agora contribuir.
(*) Pai da Beatriz, aluna da turma 41, e do Pedro, ex-aluno da escola. Professor do Departamento de Filosofia da UFRGS