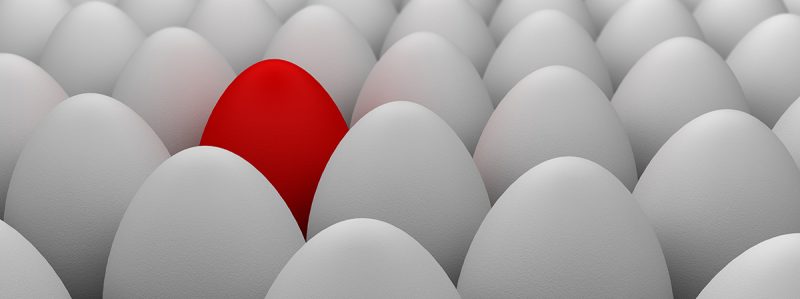Ana Helena Amarante (*)
Repetir, incansavelmente, os jargões sobre o “respeito às diferenças” não faz de ninguém uma pessoa que colabora, em suas ações, com a expressão das diferenças. E, mesmo que tantas ações tenham derivado desse discurso, o que aí se anuncia, é uma diferença ainda submetida a um modelo, a uma referência, a uma identidade, da qual algo se diferencia.
Mas por quê?
Se pensarmos rapidamente o que, no senso comum, chamamos “diferença”, logo chegaremos em muitos exemplos, onde aquilo que é chamado de diferente é diferente da maioria. Então, uma criança autista é diferente da maioria que não é autista. Um cadeirante é diferente da maioria que caminha. Uma criança disléxica é diferente da maioria das crianças que escrevem e leem sem dificuldades. Num primeiro momento pode-se perceber que quem é diferente é aquela pessoa que se distingue da maioria.
Mas isso seria simples demais se junto ao que chamamos maioria não estivesse colado o conceito de normalidade. Nossa cultura tornou maioria e normalidade quase indiscerníveis. Se normal fosse apenas a maioria, sem colar a isso nenhum juízo moral, a diferença em relação à maioria seria apenas numérica. Mas sabemos que não é. O conceito de normalidade se constituiu em nossa cultura junto a demandas de domesticação dos comportamentos. Ser normal é estar conforme àquilo que os modelos sociais indicam como sendo “normais”, leia-se aqui, como sendo bons, corretos, adequados à ordem social hegemônica.
A maioria, portanto, oferece um padrão, uma regra, uma régua. O padrão, a regra e a régua oferecem os parâmetros de normalidade, os valores morais que regulam esses parâmetros e as medidas adequadas para que nada escape muito, sem ser devidamente julgado e punido como “diferente”. Esse é o uso mais habitual do conceito de diferença em nossa cultura.
O padrão majoritário está presente nos modos como nos comportamos, como sentimos a vida, como constituímos nossas experiências, como percebemos aquilo que escapa aos padrões e como nos percebemos – O que achamos adequado e inadequado em nós e no mundo? O que julgamos como excessivo ou como faltante?

E por que então o discurso sobre o “respeito às diferenças” não é suficiente para fazermos essa crítica e pensarmos outras ações? Porque cada vez que remarcamos a ideia de que a diferença é algo que se distingue de um modelo ou padrão, remarcamos também esse modelo como identidade primeira, da qual tudo parte, inclusive a diferença. A diferença estaria sempre submetida a esse modelo, pois ela seria, nesse caso, diferente dele. A diferença não estaria livre e sim referida sempre a um padrão que ditaria, inclusive, o que dele se distingue. E o mundo segue assim, tal e qual.
Como nos exemplos acima, a criança autista é “diferente” em relação à maioria das crianças não autistas que se toma como modelo, assim como o cadeirante é “diferente” em relação a um modelo pressuposto de normalidade de quem caminha e assim por diante. Remarca-se assim o modelo, o padrão – o normal é não ser autista, normal é caminhar, normal é ser outra coisa que não aquilo que ofenderia o padrão que segue mais forte do que nunca.
Quando se chama “diferente” o que o modelo exige, quando é do modelo que se parte, quando é ele quem dá as regras do jogo, sem perceber se está obedecendo a esse jogo, se está obedecendo ao modelo como organizador da vida.
Essa lógica predominante condiciona de tal maneira nossos pensamentos e atos que acabamos tornando a diferença algo que podemos apontar facilmente, já que reconhecemos o padrão majoritário e aquilo que dele se distingue. Esses que se distinguem são os que precisam, nessa lógica, serem corrigidos, domesticados, padronizados ou, ainda, assumirem uma identidade de diferentes: o autista, o cadeirante etc. E, ao reproduzir novas identidades, se reproduz também aquilo que se critica. Muitos discursos, com o intuito de serem inclusivos remarcam essa mesma lógica, exigindo a “tolerância”, a “aceitação”, o “respeito” às diferenças, reforçando a diferença como prisioneira do modelo, pois tolerar essa diferença é aceitar também o padrão que diz que isto é diferença.
Assim, seguindo os exemplos dados, ao invés de se conviver com diferenças livres que cada uma dessas pessoas expressa para além de suas características, mas também com elas, demarca-se uma identidade, uma estrutura, um novo padrão, reproduzindo a lógica identitária e não outros modos de viver a diferença, livre de modelos.
Pensar a diferença livre não é somente uma mudança de discurso e tem consequências concretas em nossas vidas. Viver numa tentativa constante de adequação é bem distinto do que crer numa vida que pode ser criada – composição sempre aberta junto às contingências que aparecem.
Viver a diferença livre de modelos é experimentar, mesmo que fugazmente, uma abundância de vida bem mais rica do que as tentativas de adaptação aos padrões hegemônicos.
E se pensarmos a diferença livre da identidade? E se pensarmos a diferença sem referência? E se pensarmos que nós e o mundo somos expressões de diferenças de diferenças, num processo ininterrupto de variação?
Variar dá medo. Variar dá alegria de inventar. Variar acontece, querendo ou não.
E se a tentativa fosse fluir e aproveitar mais dessa condição tão íntima da vida que nos atravessa?
(*) Mãe do ex-aluno Antônio, Psicóloga, Dra. em Filosofia, Diretora do Grupo Teatral das Duas Outras.